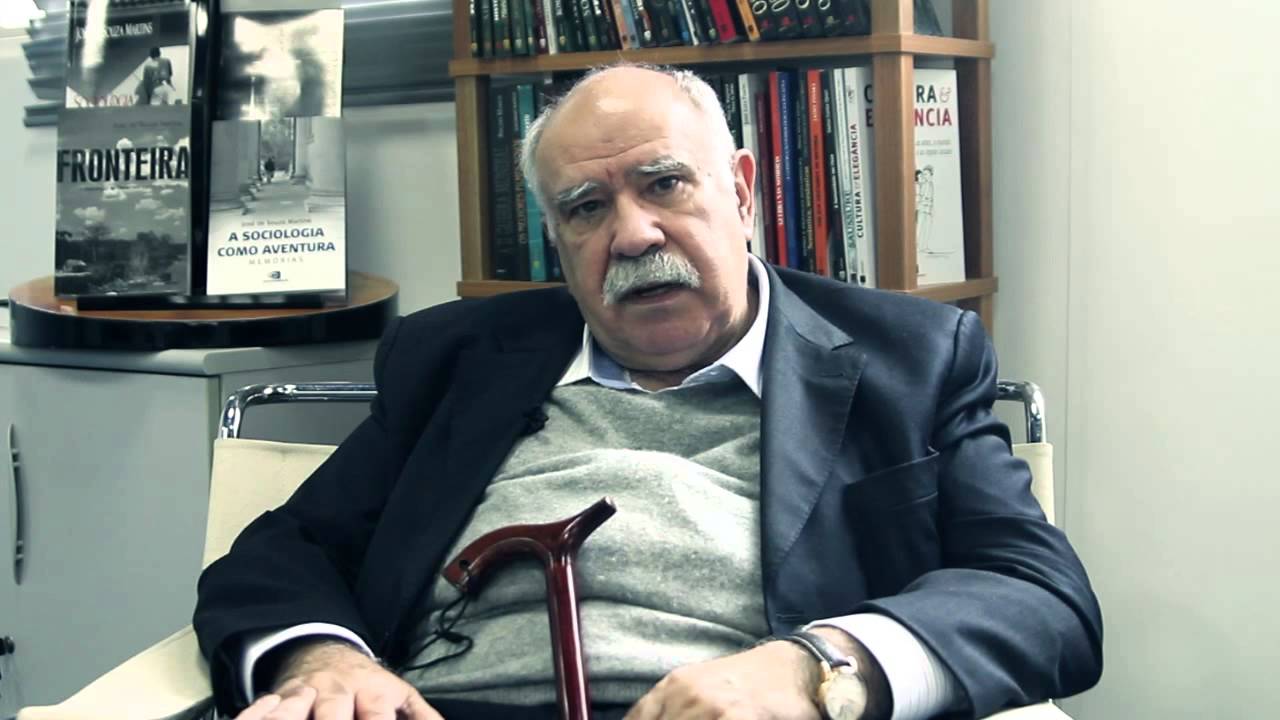Formar uma base comum nos currículos de todas as escolas e de todos os níveis no país não é má ideia. Entretanto, a professora Monica Ribeiro da Silva adverte: “a diversidade e desigualdades educacionais pelo país são aspectos que também precisam ser levados em conta”. Segundo ela, uma das falhas da proposta da Base Nacional Comum Curricular - BNCC é justamente não levar isso em conta, o que coloca escolas “em condições distintas de realizar o que está definido em uma listagem de objetivos e conteúdos”. “Por óbvio, as escolas com condições mais precárias estarão mais distantes de cumprir o que está prescrito, aumentando ainda mais as desigualdades de aprendizagem entre os estudantes”, pontua.
Na entrevista, concedida por e-mail à IHU On-Line, a professora chama atenção para a forma como a Base ranqueia colégios, trazendo ao ambiente de aprendizagem uma lógica empresarial. Segundo Monica, isso revela que a educação crítica com vistas à autonomia é posta de lado em detrimento a uma formação voltada às demandas de mercado. “Nesse cenário de disputas parece estar conquistando uma certa hegemonia o que estamos chamando por ‘empresariamento da educação’. Isso significa que o setor empresarial vê na educação uma mercadoria como outra qualquer”, analisa. Realidade que, para a professora, fica ainda mais clara quando se olhar para propostas referentes ao Ensino Médio. “A reforma em curso propõe que a formação técnica e profissional seja um dos itinerários formativos do Ensino Médio, podendo ser oferecido por meio de parceria com o setor privado, em duas trajetórias concomitantes. Isso é o que destrói a ideia de integração entre formação profissional e formação científica básica”, completa.


Monica Silva | Foto: UNE
Monica Ribeiro da Silva possui doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar e graduação em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp. Está realizando estágio pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. É professora na Universidade Federal do Paraná - UFPR, nos cursos de formação de professores e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Entre suas publicações, destacamos Currículo e Competências: a formação administrada(São Paulo: Cortez, 2008) e Educação, Movimentos sociais e políticas governamentais (Curitiba: Appris, 2017).
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Como a senhora avalia a mais recente versão da Base Nacional Comum Curricular - BNCC?
Diversidade e desigualdades educacionais pelo país são aspectos que também precisam ser levados em conta ao se pensar a formulação de políticas curriculares
Tweet
Monica Ribeiro da Silva – Vejo com muitas ressalvas a ideia de uma Base Nacional Comum Curricular para o país, independentemente da versão. A extrema padronização inerente a um documento desse tipo contraria tanto as trajetórias que o Brasil vinha percorrendo, por meio da definição de diretrizes curriculares, quanto o acúmulo que as pesquisas no campo do currículo e das políticas curriculares evidenciam.
A ideia de diretrizes curriculares nacionais, como as exaradas pelo Conselho Nacional de Educação para as diversas etapas e modalidades da Educação Básica permitem, ao mesmo tempo, assegurar alguma proximidade curricular entre as diferentes unidades da federação e, ao mesmo tempo, a autonomia que as escolas e redes de ensino necessitam tendo em vista atender às necessidades formativas e aos interesses dos sujeitos, alunos e professores, no interior das escolas. A diversidade e desigualdades educacionais pelo país são aspectos que também precisam ser levados em conta ao se pensar a formulação de políticas curriculares. As desigualdades de condições de oferta, por exemplo, quando deparadas com um currículo padrão, extremamente prescritivo como se vê especialmente na terceira versão da BNCC, coloca essas escolas em condições distintas de realizar o que está definido em uma listagem de objetivos e conteúdos.
Por óbvio, as escolas com condições mais precárias estarão mais distantes de cumprir o que está prescrito, aumentando ainda mais as desigualdades de aprendizagem entre os estudantes. O campo de pesquisa em currículo no Brasil tem se posicionado também de forma contrária, e com bastante veemência, quando se trata do assunto, por entender que essa padronização, essa lista que impõe às escolas o que elas devem ser, contrariam até mesmo a ideia de educação, uma vez que é algo definido sem sequer atentar para o que é praticado e definido pelas pessoas diretamente envolvidas.
IHU On-Line – Neste primeiro momento da aplicação da Base Nacional Comum Curricular, o Ensino Médio está de fora. Quais as implicações disso?
Monica Ribeiro da Silva – Afirmei anteriormente que entendo como um retrocesso imenso a definição de uma Base Nacional Comum Curricular nos termos que vem sendo encaminhado pelo governo federal. Ainda que fosse desejável essa prescrição de objetivos e conteúdos de forma centralizada, o fato de estar sendo produzido em separado um documento como este, desconsidera que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96 institui um nível de ensino chamado “Educação Básica”, que compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Veja, um único nível de ensino que recebeu, inclusive, a partir de 2010 uma orientação do Conselho Nacional de Educação que este nível compõe “um todo sequencial, orgânico e articulado”.
Esta definição, que é a norma estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, busca assegurar que não haja um tratamento estanque entre as etapas que compõem esse nível de ensino. O encaminhamento dado pelo MEC vai justamente na posição contrária ao separar o Ensino Médio e compromete, com isso, até mesmo o sentido de educação básica atribuído pela LDB.
IHU On-Line – O que deve mudar no Ensino Médio do Brasil?
IHU On-Line – O que deve mudar no Ensino Médio do Brasil?
Monica Ribeiro da Silva – O Ensino Médio brasileiro se caracteriza por um conjunto de dificuldades, dentre as quais destaco:
O elevado número de jovens entre 15 e 17 anos que não se encontram matriculados na última etapa da Educação Básica. O Brasil possui atualmente algo próximo a 10 milhões e 500 mil jovens nessa faixa etária. Destes, pouco mais de 5 milhões estão matriculados no Ensino Médio. Pouco mais de 3 milhões e 500 mil estão cursando ainda o Ensino Fundamental e quase 1 milhão e 700 mil não possuem qualquer vínculo escolar, mesmo estando em idade obrigatória.
Afora o problema de acesso, temos ainda o problema do abandono escolar. Nem todos que começam concluem. Nota-se uma dificuldade das redes de ensino em qualificar a permanência dos jovens na escola, fazer com que a escola dê respostas efetivas às necessidades e interesses dessas várias juventudes que se encontram dentro dela. A origem desses problemas está na estrutura da própria sociedade brasileira, nas desigualdades históricas que dentre outras coisas mascara as diferenças e naturaliza aquilo que é produzido social e culturalmente.
A ideia de uma BNCC como sendo capaz de resolver os problemas educacionais do país torna-se inócua
Tweet
A ampliação da matrícula que se deu de forma acelerada entre o início dos anos de 1990 a início dos anos 2000 é outro fator que explica as dificuldades atuais por que passa o Ensino Médio. Passamos de 3.500.000 matrículas em 1991 para 9 milhões em 2004. Desde então a matrícula tem oscilado em torno de 8 milhões. Certamente a inclusão de um contingente imenso de pessoas que ao longo do século XX esteve excluída do ensino secundário tem contribuído para criar distorções na oferta, dado que esta escola pensada para poucos teve que buscar respostas (nem sempre encontradas) de como acolher uma diversidade de pessoas das mais variadas origens sociais, econômicas e culturais. Corrigir tais distorções passa por dar maior atenção às especificidades desse público, o que é o oposto de propor uma padronização como a da BNCC que ignora ainda mais essas especificidades.
Outras dificuldades estão nas condições muitas vezes precárias de infraestrutura das unidades escolares, na formação de professores que nem sempre responde às necessidades das escolas e redes de ensino, nas condições de trabalho docente cada vez mais precarizadas e desvalorizadas.
Diante desse quadro, a ideia de uma BNCC como sendo capaz de resolver os problemas educacionais do país torna-se inócua. Do mesmo modo, a reforma do Ensino Médiofeita por meio de medida provisória, sem qualquer diagnóstico mais próximo da realidade, não mostra quaisquer condições de superar os problemas apontados. Pelo contrário, poderá agravá-los.
IHU On-Line – Como a senhora tem acompanhado as discussões relacionadas à BNCC que serão aplicadas ao Ensino Médio? Que caminhos têm sido trilhados?
Monica Ribeiro da Silva – Desde que a atual equipe do Ministério da Educaçãoassumiu, muito pouco se tornou público dos caminhos trilhados na elaboração da BNCC do Ensino Médio. Do que está publicizado, além da preocupação com a padronização e prescrição centralizada de uma listagem de objetivos, outro elemento se configura em um claro retrocesso. Estou me referindo à retomada da proposta de organizar uma base curricular por meio da definição de uma listagem de “competências” que caberia à escola desenvolver nos estudantes.
Trata-se de uma retomada de um modelo que se tentou impor ao país ao final da década de 1990 e que se mostrou absolutamente inapropriado. Isso pelo próprio significado do termo “competências”, carregado de um viés pragmático que reduz o conhecimento escolar à sua condição de aplicabilidade imediata, acarretando uma fragilização na formação dos estudantes por meio justamente da perda de centralidade do conhecimento.
IHU On-Line – Em um contexto de intensificação da automação industrial e da redução de postos de trabalho, o que significa apostar em uma formação profissional no Ensino Médio? O BNCC está alinhado aos desafios atuais do mundo do trabalho?
Monica Ribeiro da Silva – A BNCC trata apenas dos conhecimentos gerais, não estando vinculada à formação profissional. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Brasil é uma necessidade e precisaria estar disponível aos estudantes que por ela optassem. No entanto, teria que se assegurar uma oferta de qualidade, que respondesse ao contexto das mudanças no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, garantisse a formação geral, científica e humanista. O país tem efetivamente essa possibilidade por meio do Ensino Médio Integrado - EMI, isto é, a educação profissional integrada ao Ensino Médio. A oferta do EMI está atualmente quase restrita aos Institutos Federais e foi colocada em risco com a atual reforma do Ensino Médio(Lei 13.415/17 que resultou da MP 746/16).
A reforma em curso propõe que a formação técnica e profissional seja um dos itinerários formativos do Ensino Médio, podendo ser oferecido por meio de parceria com o setor privado, em duas trajetórias concomitantes. Isso é o que destrói a ideia de integração entre formação profissional e formação científica básica. Mais um retrocesso, portanto, em relação ao que vinha sendo feito.
IHU On-Line – No que diz respeito à autonomia do professor, que garantias a BNCC estabelece?
Monica Ribeiro da Silva – Ainda que o Ministério da Educação, nos momentos em que apresenta os documentos de BNCC, insista em dizer que a autonomia das redes de ensino está assegurada, a vinculação desse documento às políticas de avaliação em larga escala sinalizam claramente para uma dimensão de obrigatoriedade, de controle e de imposição que recairá, em última instância, sobre professores e professoras. O resultado disso é exatamente a ausência de autonomia.
IHU On-Line – Não parece contraditório reformar o ensino básico no Brasil (incluído o Médio) em um contexto de cortes no Ministério da Educação? Como melhorar o ensino sem investimentos?
Monica Ribeiro da Silva – A evidência dessa contradição, em especial no que diz respeito ao Ensino Médio, está no empréstimo realizado pelo MEC logo após a aprovação da Lei 13.145/17. Em torno de 800 milhões de reais junto ao Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento - eBIRD, essa ação significa a retomada do endividamento externo como política de financiamento de reformas educacionais, experiência nefasta que o país havia praticamente abandonado e agora é retomada.
Esse modelo de financiamento de reformas por meio de endividamento externomostrou-se inócuo, especialmente devido às contrapartidas exigidas pelos organismos “parceiros” e pelo pagamento de altos juros que com o tempo consomem os recursos financeiros que seriam destinados à educação. Esse cenário se agrava no contexto de vigência da Emenda Constitucional 95/16 (PEC 241/55) que impõe teto de gastos nas áreas sociais, especialmente educação, saúde e assistência social.
IHU On-Line – Que disputas de poder estão em jogo nas atuais reformas relacionadas à educação?
A reforma do Ensino Médio feita por meio de medida provisória, sem qualquer diagnóstico mais próximo da realidade, não mostra quaisquer condições de superar os problemas
Tweet
Monica Ribeiro da Silva – São várias as disputas, desde a que gira em torno dos sentidos e finalidades da educação básica,por exemplo, mais voltadas a uma formação crítica e autônoma ou mais atrelada a demandas do mercado, até a disputa quanto à responsabilidade sobre a oferta, a produção de materiais, a formação de professores. Nesse cenário de disputas parece estar conquistando uma certa hegemonia o que estamos chamando por “empresariamento da educação”. Isso significa que o setor empresarial, que vê na educação uma mercadoria como outra qualquer, tem adquirido cada vez mais espaço, colocando em risco até mesmo o princípio constitucional de que a educação é dever da família e do Estado.
Temos assistido a uma verdadeira demonização do público – ao qual se atribui a alcunha de ser caro e ineficiente – decorrente de perspectiva economicista que possui claramente a finalidade de justificar a privatização de serviços tidos, até o presente, como sendo de oferta pública por ser direito do cidadão e dever do Estado. Assim, flexibilização das relações de trabalho, reforma trabalhista, reforma da previdência e reformas educacionais fazem parte de um mesmo cenário que, em síntese, culmina com a perda dos poucos direitos que a população brasileira ousara acumular ao longo de sua história.
IHU On-Line – Quais os desafios para a formação docente no nosso tempo?
Monica Ribeiro da Silva – Um primeiro desafio diz respeito à valorização dessa formação, o que, por sua vez, depende, da valorização do trabalho docente, da escola e da educação. Somente um conjunto de políticas públicas que articulem ao mesmo tempo esses aspectos poderiam contribuir na direção dessa valorização. Outros desafios, como por exemplo, a maior articulação entre a formação superior e a escola, entre a universidade e a educação básica, encontram possibilidades reais nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Parecer CNE/CEB 02/2015).
IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?
Monica Ribeiro da Silva – Considero necessário apenas explicar as razões da afirmação feita anteriormente acerca da atual reforma do Ensino Médio. O reconhecimento da existência de problemas na última etapa da Educação Básicasinaliza claramente para a necessidade de mudanças. Mas, as alterações aprovadas na Lei 13.415/16 respondem a essa necessidade? Certamente que não. E por quê? Porque fatia o currículo em itinerários de modo a que cada estudante faça apenas um deles. Compromete com isso uma formação integral bem como o acesso a um conjunto de conhecimentos nas múltiplas áreas da ciência e da arte, necessários para o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo; porque ilude os jovens com a falsa promessa de que poderão escolher uma das quatro áreas (itinerários formativos) ou a formação técnica e profissional, e ao mesmo tempo desobriga os sistemas de ensino de oferecer em uma mesma escola os cinco itinerários propostos; porque contribui ainda mais para a desvalorização dos professores ao instituir a figura do “notório saber” e permitir que pessoas sem formação apropriada passem a ter direito à docência. Estes, dentre outros aspectos, constituem-se em fragilização do direito à educação básica e compõem o cenário de retrocessos a que estamos assistindo no país.